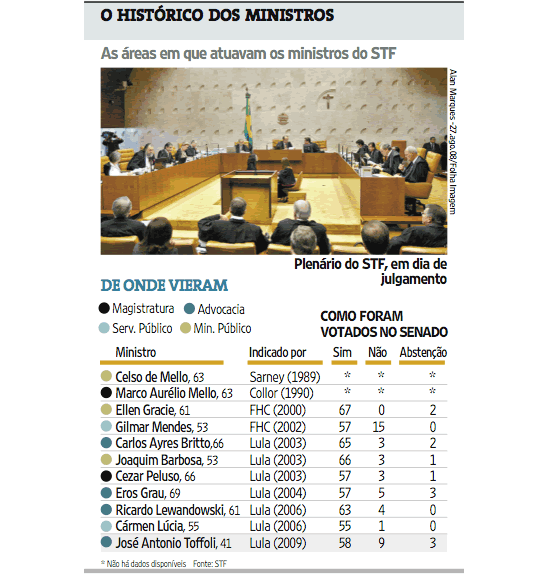A fim de dar mais celeridade e agilidade ao julgamento de processos na Justiça, o Congresso instalou uma comissão para reformar o Código de Processo Civil. Quando se pretende uma mudança na lei, é essencial o estudo sobre as reformas que já foram feitas e quais os impactos que elas produziram. Saber a realidade do Judiciário não é só ter uma percepção do que acontece no seu dia a dia, mas ter em mãos dados estatísticos que, de fato, mostrem o funcionamento dos tribunais.
A professora e pesquisadora da FGV Direito Rio, Leslie Shérida Ferraz, tem se dedicado a diagnosticar o Judiciário junto com outros nomes de peso, como Maria Teresa Sadek e Kazuo Watanabe. A pesquisadora já participou de estudos sobre cartórios judiciais, execuções fiscais e tutela coletiva.
Sua mais recente pesquisa analisou o impacto das decisões monocráticas no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Leslie constatou que 40% das decisões do tribunal são decididas por um único julgador: o desembargador relator do recurso. E dessas decisões apenas um terço é contestado através de agravo interno, quando a decisão monocrática passa pelo crivo do colegiado. A conclusão da pesquisadora é que as decisões monocráticas ajudaram a diminuir o tempo de julgamento do recurso no Rio.
Na entrevista concedida ao Consultor Jurídico, Leslie Ferraz conta que vários fatores fazem com que a pesquisa empírica no Judiciário feita por juristas ainda seja incipiente. Ela mesma estudou o Direito de forma tradicional em que as pesquisas são mais acadêmicas. Também costuma enfrentar dificuldades e resistências que encontra do outro lado, por parte dos tribunais.
Com a informatização dos tribunais e a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça em coletar dados estatísticos sobre eles, Leslie acredita que a tendência é ter mais pesquisas sobre o Judiciário. “Sou otimista e percebo uma sensibilização cada vez maior.” A pesquisadora cita como exemplo de engajamento a iniciativa do CNJ em premiar pesquisas empíricas sobre o Judiciário e, assim, promover esses estudos.
No caso do Rio de Janeiro, conseguir dados foi simples. “Eu enviei um ofício para o tribunal e ele me deu uma resposta com todos os feitos, uma tabela”, conta. A dificuldade é quando os tribunais não informam esses dados, ou porque não querem e principalmente porque não os têm. “Quando fiz a pesquisa do Juizado, por exemplo, havia audiências que não tinham sido realizadas, porque os autos não foram encontrados pelo cartório.”
Depois de conhecer de perto alguns tribunais, Leslie Ferraz constata que as diferenças têm explicações que vão além da vontade e da competência em gestão dos cartórios. “O Rio tem um sistema de informática elogiável e super sofisticado. Mas, além de gestão e sensibilização, há no Rio algo que não se pode desprezar: a independência financeira do tribunal. Isso tem um impacto direto na qualidade do serviço.”
Encomendadas pela Secretaria de Reforma do Judiciário, as pesquisas sobre os cartórios, tutela coletiva e execução fiscal foram feitas quando Leslie Ferraz trabalhava no Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais, presidido pelo professor Watanabe. Planos e temas para serem pesquisados não faltam a Leslie. Ela conta que as reformas legislativas têm sido no sentido de uniformizar os entendimentos dos tribunais. “É o caso da súmula vinculante. Quero fazer uma pesquisa empírica sobre isso.”
Formada pela Faculdade de Direito da USP em 1999, Leslie Ferraz também fez mestrado em Processo Penal e doutorado em Processo Civil pela mesma universidade. Estudou Direito Comparado na Itália e Juizados em Nova York. “Foi um enfoque mais prático e quando comecei a me interessar por pesquisa.” Mudou-se para o Rio de Janeiro, onde leciona Processo Civil e acesso à Justiça e coordena o Centro de Estudos Jurídicos, da FGV Direito Rio.
Leia a entrevista
ConJur — Sua mais recente pesquisa constatou que as decisões monocráticas fizeram com que o tempo de julgamento diminuísse no TJ do Rio. Como surgiu a ideia de pesquisar esse tema?
Leslie Ferraz — A ideia surgiu durante uma aula sobre reforma processual. Questionei se a reforma tinha sido racional, já que a decisão monocrática pode ser atacada por agravo interno. Se todas pessoas não se conformassem com a decisão monocrática e quisessem interpor agravo interno, ao invés de economia processual, teríamos mais um degrau na escalada recursal. Sabíamos que a resposta estaria nos dados empíricos. Analisamos a quantidade de decisões monocráticas e colegiadas no período de 2003 a 2008. Queríamos constatar se os desembargadores a utilizavam e, em caso afirmativo, qual era o grau de conformismo das partes em relação à decisão. Se tivéssemos muitos agravos internos, perceberíamos que a reforma foi irracional, pois teríamos dois procedimentos recursais ao invés de um.
Leslie Ferraz — A ideia surgiu durante uma aula sobre reforma processual. Questionei se a reforma tinha sido racional, já que a decisão monocrática pode ser atacada por agravo interno. Se todas pessoas não se conformassem com a decisão monocrática e quisessem interpor agravo interno, ao invés de economia processual, teríamos mais um degrau na escalada recursal. Sabíamos que a resposta estaria nos dados empíricos. Analisamos a quantidade de decisões monocráticas e colegiadas no período de 2003 a 2008. Queríamos constatar se os desembargadores a utilizavam e, em caso afirmativo, qual era o grau de conformismo das partes em relação à decisão. Se tivéssemos muitos agravos internos, perceberíamos que a reforma foi irracional, pois teríamos dois procedimentos recursais ao invés de um.
ConJur — Mas a conclusão da pesquisa foi de que a lei pegou.
Leslie Ferraz — Sim. Hoje, 40% das decisões do TJ do Rio são monocráticas e, ao olhar o período analisado, percebemos que há uma tendência de crescimento na sua utilização. A segunda questão era sobre a incidência de agravo interno. Constatamos que em apenas 35% dos casos a parte não se conforma com a monocrática e leva a decisão para o colegiado. O curioso foi que essa proporção se manteve em todo o período pesquisado. Ou seja, dois terços das decisões monocráticas não são atacados e, portanto, a última resposta sobre o caso é proferida por um único julgador.
Leslie Ferraz — Sim. Hoje, 40% das decisões do TJ do Rio são monocráticas e, ao olhar o período analisado, percebemos que há uma tendência de crescimento na sua utilização. A segunda questão era sobre a incidência de agravo interno. Constatamos que em apenas 35% dos casos a parte não se conforma com a monocrática e leva a decisão para o colegiado. O curioso foi que essa proporção se manteve em todo o período pesquisado. Ou seja, dois terços das decisões monocráticas não são atacados e, portanto, a última resposta sobre o caso é proferida por um único julgador.
ConJur — E até que ponto isso é bom para as partes?
Leslie Ferraz — Nós queríamos ser objetivos ao analisar a pertinência da reforma. Por isso, fui resgatar o histórico dela para saber o que o legislador queria quando resolveu mudar a lei. A intenção era reduzir a pauta dos órgãos colegiados, que estavam assoberbados com questões repetitivas, e abreviar a duração do processo. Sob essa ótica, a reforma foi completamente positiva, pois os dois objetivos foram atendidos. Hoje, o colegiado decide menos, tem uma carga menor de trabalho e o tempo de julgamento foi abreviado consideravelmente. Outro ponto que nós percebemos, mas que não foi analisado pela pesquisa, tem a ver com a redução de algumas garantias constitucionais, como a sustentação oral pelo advogado. Em um segundo momento, é tempo de refletir o que queremos privilegiar. Não podemos esquecer que o processo tem de ter equilíbrio, celeridade e respeito às garantias processuais. Toda reforma é feita para atacar a morosidade da Justiça. E eu concordo com isso. O problema é o que vamos restringir para conseguirmos a celeridade. O que devemos atacar é o tempo morto, processos que ficam na fila de espera sem gestão.
Leslie Ferraz — Nós queríamos ser objetivos ao analisar a pertinência da reforma. Por isso, fui resgatar o histórico dela para saber o que o legislador queria quando resolveu mudar a lei. A intenção era reduzir a pauta dos órgãos colegiados, que estavam assoberbados com questões repetitivas, e abreviar a duração do processo. Sob essa ótica, a reforma foi completamente positiva, pois os dois objetivos foram atendidos. Hoje, o colegiado decide menos, tem uma carga menor de trabalho e o tempo de julgamento foi abreviado consideravelmente. Outro ponto que nós percebemos, mas que não foi analisado pela pesquisa, tem a ver com a redução de algumas garantias constitucionais, como a sustentação oral pelo advogado. Em um segundo momento, é tempo de refletir o que queremos privilegiar. Não podemos esquecer que o processo tem de ter equilíbrio, celeridade e respeito às garantias processuais. Toda reforma é feita para atacar a morosidade da Justiça. E eu concordo com isso. O problema é o que vamos restringir para conseguirmos a celeridade. O que devemos atacar é o tempo morto, processos que ficam na fila de espera sem gestão.
ConJur — No julgamento do agravo de instrumento, o advogado não pode fazer sustentação oral. Mas no caso da apelação sim. Isso muda quando há agravo interno atacando decisão monocrática?
Leslie Ferraz — No caso da apelação, em que não houve decisão monocrática, é possível a sustentação oral por parte do advogado. Já na decisão monocrática, o desembargador decidiu sozinho no seu gabinete. O advogado já não vai mais ter acesso e levar seus argumentos ao tribunal. Mas se o advogado agrava internamente, como não há agendamento do agravo na pauta, o processo é colocado em mesa pelo desembargador relator. Não há como saber a data em que o agravo será julgado. Com isso, não tem oportunidade de fazer sustentação oral. É uma discrepância. Inclusive há quem defenda que, no caso de agravo interno em apelação, deveria se abrir a oportunidade para sustentação oral, com agendamento para o advogado se programar. A celeridade ficaria mais comprometida. São esses os valores que estão sempre em choque.
Leslie Ferraz — No caso da apelação, em que não houve decisão monocrática, é possível a sustentação oral por parte do advogado. Já na decisão monocrática, o desembargador decidiu sozinho no seu gabinete. O advogado já não vai mais ter acesso e levar seus argumentos ao tribunal. Mas se o advogado agrava internamente, como não há agendamento do agravo na pauta, o processo é colocado em mesa pelo desembargador relator. Não há como saber a data em que o agravo será julgado. Com isso, não tem oportunidade de fazer sustentação oral. É uma discrepância. Inclusive há quem defenda que, no caso de agravo interno em apelação, deveria se abrir a oportunidade para sustentação oral, com agendamento para o advogado se programar. A celeridade ficaria mais comprometida. São esses os valores que estão sempre em choque.
ConJur — Um dos dados da pesquisa que surpreendeu foi o fato de o julgamento de uma decisão monocrática, quando atacada por agravo, ser mais rápido do que uma decisão que não foi decidida monocraticamente.
Leslie Ferraz — Exatamente. Essa é outra aferição interessante. O que acontece é que o julgamento puro, ou seja, em que não houve decisão monocrática, precisa ser agendado na pauta do tribunal. A monocrática é julgada no gabinete e o agravo interno não tem essa exigência de entrar na pauta. Não há fila de espera e, curiosamente, apesar de ser um procedimento complexo, acaba sendo julgado mais rapidamente por conta da reforma.
Leslie Ferraz — Exatamente. Essa é outra aferição interessante. O que acontece é que o julgamento puro, ou seja, em que não houve decisão monocrática, precisa ser agendado na pauta do tribunal. A monocrática é julgada no gabinete e o agravo interno não tem essa exigência de entrar na pauta. Não há fila de espera e, curiosamente, apesar de ser um procedimento complexo, acaba sendo julgado mais rapidamente por conta da reforma.
ConJur — E como foi essa mudança legislativa?
Leslie Ferraz — Na redação original do artigo 557, do Código de Processo Civil de 1973, só o agravo podia ser julgado monocraticamente. O poder do relator era muito restrito. Ele podia negar o agravo manifestamente improcedente, ou converter em diligências quando a prova fosse fraca, quando achasse que o recurso ainda não estava pronto para ser julgado. A partir de 1995, ele passou a poder julgar todo tipo de recurso e a negar seguimento, por exemplo, quando recurso fosse manifestamente inadmissível. Ou seja, se antes ele ficava em questões mais preliminares, a partir de 95, pôde julgar o mérito prejudicado ou quando fosse contrário à súmula. E na reforma de 1998, além de negar seguimento e julgar improcedente no mérito, ele também podia — e essa foi uma novidade — dar provimento ao recurso. Ou seja, julgar o mérito positivamente. O que percebemos foi uma evolução gradativa sempre ampliando os poderes do relator do recurso.
Leslie Ferraz — Na redação original do artigo 557, do Código de Processo Civil de 1973, só o agravo podia ser julgado monocraticamente. O poder do relator era muito restrito. Ele podia negar o agravo manifestamente improcedente, ou converter em diligências quando a prova fosse fraca, quando achasse que o recurso ainda não estava pronto para ser julgado. A partir de 1995, ele passou a poder julgar todo tipo de recurso e a negar seguimento, por exemplo, quando recurso fosse manifestamente inadmissível. Ou seja, se antes ele ficava em questões mais preliminares, a partir de 95, pôde julgar o mérito prejudicado ou quando fosse contrário à súmula. E na reforma de 1998, além de negar seguimento e julgar improcedente no mérito, ele também podia — e essa foi uma novidade — dar provimento ao recurso. Ou seja, julgar o mérito positivamente. O que percebemos foi uma evolução gradativa sempre ampliando os poderes do relator do recurso.
ConJur — E existe algum critério para definir quando esse dispositivo pode ser aplicado?
Leslie Ferraz — O artigo 557 traz as hipóteses. Alguns dos critérios de cabimento são muito claros e objetivos, como recurso manifestamente improcedente ou intempestivo, por exemplo. O que alguns advogados reclamam é que o conceito de jurisprudência não é objetivo. Eles dizem que há casos em que não há posição sedimentada, mas o relator, utilizando-se de um único julgado, profere decisão monocrática. Esse é o risco do dispositivo. Quando ele traz um conceito aberto, pode ter o uso desmedido. No Rio de Janeiro, existe um movimento muito recente que pode dar mais objetividade a essa questão. É a criação de enunciados.
Leslie Ferraz — O artigo 557 traz as hipóteses. Alguns dos critérios de cabimento são muito claros e objetivos, como recurso manifestamente improcedente ou intempestivo, por exemplo. O que alguns advogados reclamam é que o conceito de jurisprudência não é objetivo. Eles dizem que há casos em que não há posição sedimentada, mas o relator, utilizando-se de um único julgado, profere decisão monocrática. Esse é o risco do dispositivo. Quando ele traz um conceito aberto, pode ter o uso desmedido. No Rio de Janeiro, existe um movimento muito recente que pode dar mais objetividade a essa questão. É a criação de enunciados.
ConJur — Como é isso?
Leslie Ferraz — Os desembargadores têm discutido alguns temas e, com base na discussão, aprovado enunciados. O relator que julgar com base no artigo 557 tem um enunciado, um norte não só em relação a sua turma, mas ao tribunal em geral. Há desembargadores, por exemplo, que dizem não concordar com o conteúdo do enunciado, mas como houve uma discussão democrática, poderiam aplicá-lo. Esse mecanismo dá mais segurança jurídica para a população também. O próprio advogado já sabe que terá uma decisão em determinado sentido. Quando fizemos a pesquisa, isso não existia.
Leslie Ferraz — Os desembargadores têm discutido alguns temas e, com base na discussão, aprovado enunciados. O relator que julgar com base no artigo 557 tem um enunciado, um norte não só em relação a sua turma, mas ao tribunal em geral. Há desembargadores, por exemplo, que dizem não concordar com o conteúdo do enunciado, mas como houve uma discussão democrática, poderiam aplicá-lo. Esse mecanismo dá mais segurança jurídica para a população também. O próprio advogado já sabe que terá uma decisão em determinado sentido. Quando fizemos a pesquisa, isso não existia.
ConJur — E deu para constatar qual é o grau de utilização das decisões monocráticas pelos desembargadores?
Leslie Ferraz — Na pesquisa, entrevistamos alguns desembargadores apenas para exemplificar, pois não tivemos tanto rigor metodológico que permitisse fazer nenhuma inferência mais generalizada. Apresentamos um questionário, com uma nota de um a cinco, para saber a frequência em que a monocrática é usada. O que percebemos é uma variedade muito grande. Um desembargador disse que não usa, porque acha que fere o espírito do julgamento colegiado em segundo grau. Ele colocou a nota um. Outro colocou 4,5, dizendo que acredita na decisão monocrática como a única forma de agilizar o funcionamento. Percebemos que o que deu nota maior é o desembargador cujo funcionamento de sua câmara é uma das mais rápidas do tribunal. Começamos a perceber a correlação entre o uso da monocrática e a diminuição do tempo.
Leslie Ferraz — Na pesquisa, entrevistamos alguns desembargadores apenas para exemplificar, pois não tivemos tanto rigor metodológico que permitisse fazer nenhuma inferência mais generalizada. Apresentamos um questionário, com uma nota de um a cinco, para saber a frequência em que a monocrática é usada. O que percebemos é uma variedade muito grande. Um desembargador disse que não usa, porque acha que fere o espírito do julgamento colegiado em segundo grau. Ele colocou a nota um. Outro colocou 4,5, dizendo que acredita na decisão monocrática como a única forma de agilizar o funcionamento. Percebemos que o que deu nota maior é o desembargador cujo funcionamento de sua câmara é uma das mais rápidas do tribunal. Começamos a perceber a correlação entre o uso da monocrática e a diminuição do tempo.
ConJur — Em 2008, a desembargadora Leila Mariano, que preside a 2ª Câmara do Tribunal cuja média de tempo de julgamento foi considerada a menor, disse que um dos segredos é só levar para o colegiado o que realmente demanda discussão.
Leslie Ferraz — Eu não posso fazer inferências generalizadas, porque teria de ter entrevistado desembargadores de cada uma das câmaras. Mas fiz estudo de caso na 2ª Câmara. Entrevistei praticamente todos os desembargadores e percebi que eles são muitos simpáticos à aplicação do artigo 557 e o usam com muita frequência. Eles próprios atribuem a diminuição do tempo de julgamento ao uso da monocrática. Percebemos também que são bastante afinados, trabalham em equipe, conversam entre si e dão uma legitimação maior para as monocráticas.
Leslie Ferraz — Eu não posso fazer inferências generalizadas, porque teria de ter entrevistado desembargadores de cada uma das câmaras. Mas fiz estudo de caso na 2ª Câmara. Entrevistei praticamente todos os desembargadores e percebi que eles são muitos simpáticos à aplicação do artigo 557 e o usam com muita frequência. Eles próprios atribuem a diminuição do tempo de julgamento ao uso da monocrática. Percebemos também que são bastante afinados, trabalham em equipe, conversam entre si e dão uma legitimação maior para as monocráticas.
ConJur — As mudanças legislativas não levam em conta a realidade, com números que a demonstrem?
Leslie Ferraz — Não costumo ver isso. O novo CPC, por exemplo, está sendo gestado. Ele tem uma comissão com grandes nomes do mundo jurídico. Embora ainda esteja em uma fase embrionária, eu não vi sinalização de que pesquisas irão nortear o trabalho da comissão. É por isso que nós queremos implantar uma cultura de pesquisa empírica.
Leslie Ferraz — Não costumo ver isso. O novo CPC, por exemplo, está sendo gestado. Ele tem uma comissão com grandes nomes do mundo jurídico. Embora ainda esteja em uma fase embrionária, eu não vi sinalização de que pesquisas irão nortear o trabalho da comissão. É por isso que nós queremos implantar uma cultura de pesquisa empírica.
ConJur — E qual é a dificuldade em se fazer pesquisa no Judiciário?
Leslie Ferraz — Eu já fiz pesquisas pelo Brasil, em outros tribunais. Todas as etapas são difíceis. Primeiro, o operador do Direito não está acostumado com metodologia empírica. Nós não estudamos Direito dessa forma. Os trabalhos jurídicos são, basicamente, acadêmicos: “o professor A acha isso; o professor B aquilo, portanto eu concluo pelo A ou pelo B”. Já começa com problema cultural da formação do operador do Direito, embora tenha mudado um pouco. Assim como eu, que tive uma formação tradicional, ele não consegue dialogar muito com outras áreas. Por exemplo, tenho de contratar um estatístico porque não sou capaz de calcular as amostras. É muito complicado afinar o diálogo, fazer o estatístico entender o procedimento, e vice-versa.
Leslie Ferraz — Eu já fiz pesquisas pelo Brasil, em outros tribunais. Todas as etapas são difíceis. Primeiro, o operador do Direito não está acostumado com metodologia empírica. Nós não estudamos Direito dessa forma. Os trabalhos jurídicos são, basicamente, acadêmicos: “o professor A acha isso; o professor B aquilo, portanto eu concluo pelo A ou pelo B”. Já começa com problema cultural da formação do operador do Direito, embora tenha mudado um pouco. Assim como eu, que tive uma formação tradicional, ele não consegue dialogar muito com outras áreas. Por exemplo, tenho de contratar um estatístico porque não sou capaz de calcular as amostras. É muito complicado afinar o diálogo, fazer o estatístico entender o procedimento, e vice-versa.
ConJur — E durante as pesquisas? Os tribunais são abertos a elas?
Leslie Ferraz — Muitos tribunais não têm uma organização informática. Hoje, isso tem mudado. O CNJ tem tentado instituir essa ideia da analise estatística. Em outras pesquisas, eu precisava saber, por exemplo, o universo de dados para montar a amostra e eles não eram capazes de me passar essas informações. Imagino que fosse mais por falha estrutural do que por tentativa de ocultar os dados. Mas isso dificulta o acesso à Justiça para todos. Nós temos muita dificuldade para obtenção de dados. Há uma juíza no Rio que me proibiu de entrar na vara dela. Ela disse que não ia aceitar pesquisa lá. Tem essa resistência. Essa cultura da pesquisa está pouco a pouco se formando no país.
Leslie Ferraz — Muitos tribunais não têm uma organização informática. Hoje, isso tem mudado. O CNJ tem tentado instituir essa ideia da analise estatística. Em outras pesquisas, eu precisava saber, por exemplo, o universo de dados para montar a amostra e eles não eram capazes de me passar essas informações. Imagino que fosse mais por falha estrutural do que por tentativa de ocultar os dados. Mas isso dificulta o acesso à Justiça para todos. Nós temos muita dificuldade para obtenção de dados. Há uma juíza no Rio que me proibiu de entrar na vara dela. Ela disse que não ia aceitar pesquisa lá. Tem essa resistência. Essa cultura da pesquisa está pouco a pouco se formando no país.
ConJur — Mas e com a pesquisa pronta? Ainda assim há resistências?
Leslie Ferraz — Esse é o terceiro momento. Nós não fazemos pesquisa para agradar o tribunal A ou B, mas para detectar a realidade. Já aconteceu de divulgarmos um diagnóstico não muito feliz e o tribunal se insurgir contra os pesquisadores, inclusive enviando cartas mal educadas. Mas eu sou positiva, vejo que há cada vez mais interesse pela pesquisa. Percebemos que há um anseio por estudos da realidade jurídica com base em pesquisa empírica. Mas falta preparo de todo o sistema. A pesquisa sobre o agravo interno foi a primeira de uma linha maior que se chama efetividade da reforma processual. Queremos analisar as reformas que foram feitas e ver quais os impactos que elas causaram.
Leslie Ferraz — Esse é o terceiro momento. Nós não fazemos pesquisa para agradar o tribunal A ou B, mas para detectar a realidade. Já aconteceu de divulgarmos um diagnóstico não muito feliz e o tribunal se insurgir contra os pesquisadores, inclusive enviando cartas mal educadas. Mas eu sou positiva, vejo que há cada vez mais interesse pela pesquisa. Percebemos que há um anseio por estudos da realidade jurídica com base em pesquisa empírica. Mas falta preparo de todo o sistema. A pesquisa sobre o agravo interno foi a primeira de uma linha maior que se chama efetividade da reforma processual. Queremos analisar as reformas que foram feitas e ver quais os impactos que elas causaram.
ConJur — Quais os outros instrumentos que a senhora acha que dá para explorar?
Leslie Ferraz — Posso falar sobre o que está na nossa agenda. O que nós queremos, depois de produzir dados empíricos, é estimular um corpo docente crítico que seja capaz de analisar essas informações. Não adianta trazer uma enxurrada de dados sem analisá-los. É o que queremos fazer no novo centro de pesquisas que vamos criar. Hoje, temos uma sociedade que se caracteriza por ser de massa e isso reflete diretamente nos tribunais. Eu acredito que o grande tema seja o julgamento de demandas repetitivas. Por que vou julgar mil processos se posso julgar um?
Leslie Ferraz — Posso falar sobre o que está na nossa agenda. O que nós queremos, depois de produzir dados empíricos, é estimular um corpo docente crítico que seja capaz de analisar essas informações. Não adianta trazer uma enxurrada de dados sem analisá-los. É o que queremos fazer no novo centro de pesquisas que vamos criar. Hoje, temos uma sociedade que se caracteriza por ser de massa e isso reflete diretamente nos tribunais. Eu acredito que o grande tema seja o julgamento de demandas repetitivas. Por que vou julgar mil processos se posso julgar um?
ConJur — Demandas similares acabam gerando decisões totalmente diferentes. Isso não faz do Judiciário uma loteria?
Leslie Ferraz — Um exemplo de demanda que entra em massa no Judiciário é o que se refere ao expurgo da poupança. Todo mundo tem os mesmos direitos. Mas, ao invés de ajuizarem uma ação coletiva, as pessoas entram com ações coletivas e individuais ao mesmo tempo. Recentemente, um ministro disse que as ações individuais seriam suspensas e as coletivas, julgadas primeiro. E o Tribunal de Justiça do Rio, com base no julgado do STJ, também criou um enunciado, dizendo que, para o caso da caderneta de poupança, as ações individuais serão suspensas, e inclusive se dará preferência ao julgamento coletivo. Isso também foi feito no Rio Grande do Sul. Nós percebemos um certo movimento de organização de gestão desse contencioso. Os escritórios de advocacia já fazem gestão estratégica. O Judiciário também precisa fazer. Há um tratamento inadequado da demanda.
Leslie Ferraz — Um exemplo de demanda que entra em massa no Judiciário é o que se refere ao expurgo da poupança. Todo mundo tem os mesmos direitos. Mas, ao invés de ajuizarem uma ação coletiva, as pessoas entram com ações coletivas e individuais ao mesmo tempo. Recentemente, um ministro disse que as ações individuais seriam suspensas e as coletivas, julgadas primeiro. E o Tribunal de Justiça do Rio, com base no julgado do STJ, também criou um enunciado, dizendo que, para o caso da caderneta de poupança, as ações individuais serão suspensas, e inclusive se dará preferência ao julgamento coletivo. Isso também foi feito no Rio Grande do Sul. Nós percebemos um certo movimento de organização de gestão desse contencioso. Os escritórios de advocacia já fazem gestão estratégica. O Judiciário também precisa fazer. Há um tratamento inadequado da demanda.
ConJur — Em que sentido?
Leslie Ferraz — Um exemplo é o que aconteceu durante o caos aéreo. Era uma questão visivelmente coletiva. Todo mundo teve problema com atraso e prejuízo decorrente disso. Existe uma agência reguladora, que poderia ter agido, aplicando multas ou negando a concessão de licenças. Nós resolveríamos o problema administrativamente, sem ter que ir para Justiça. Mas é claro que o problema foi parar no Judiciário. Diante disso, a melhor forma de resolver a questão na Justiça era ajuizar uma ação coletiva que atendesse a todos. Entretanto, a política pública adotada foi criar um Juizado Especial no aeroporto. Ou seja, uma demanda tipicamente coletiva foi fragmentada. Há vários autores que dizem que, apesar do Juizado Especial ser uma excelente fonte de acesso à Justiça, para problemas coletivos ele é a pior política pública a ser adotada.
Leslie Ferraz — Um exemplo é o que aconteceu durante o caos aéreo. Era uma questão visivelmente coletiva. Todo mundo teve problema com atraso e prejuízo decorrente disso. Existe uma agência reguladora, que poderia ter agido, aplicando multas ou negando a concessão de licenças. Nós resolveríamos o problema administrativamente, sem ter que ir para Justiça. Mas é claro que o problema foi parar no Judiciário. Diante disso, a melhor forma de resolver a questão na Justiça era ajuizar uma ação coletiva que atendesse a todos. Entretanto, a política pública adotada foi criar um Juizado Especial no aeroporto. Ou seja, uma demanda tipicamente coletiva foi fragmentada. Há vários autores que dizem que, apesar do Juizado Especial ser uma excelente fonte de acesso à Justiça, para problemas coletivos ele é a pior política pública a ser adotada.
ConJur — Por que?
Leslie Ferraz — Porque ele tira o peso político e a força da demanda. Se houvesse uma ação coletiva que punisse severamente os responsáveis pelo caos, todo mundo que foi lesado seria beneficiado. Vamos supor que de mil pessoas lesadas, apenas cem tenham ido reclamar no Juizado. O resto ficou sem qualquer tipo de reparação. E as reclamações que existiram não pesaram tanto para a companhia aérea, porque ela fez acordos ou as indenizações foram pulverizadas.
Leslie Ferraz — Porque ele tira o peso político e a força da demanda. Se houvesse uma ação coletiva que punisse severamente os responsáveis pelo caos, todo mundo que foi lesado seria beneficiado. Vamos supor que de mil pessoas lesadas, apenas cem tenham ido reclamar no Juizado. O resto ficou sem qualquer tipo de reparação. E as reclamações que existiram não pesaram tanto para a companhia aérea, porque ela fez acordos ou as indenizações foram pulverizadas.
Conjur — Há quem diga a maior clientela do Juizado não é a classe pobre e sim a classe média.
Leslie Ferraz — Nós temos muita diversidade social no Brasil e elas são reproduzidas no Judiciário. Costumo dizer que temos acesso à Justiça latente: Existem pessoas que não conseguem identificar seus direitos em uma lesão que tenha sofrido. Ela não tem consciência de que foi lesada e, portanto, nem vai pensar em ir para a Justiça. Também há o conceito desenvolvido pelo professor Kazuo Watanabe que é o da litigiosidade contida. A parte sabe que foi lesada, mas quando faz a relação “custo-benefício” conclui que não vale a pena entrar com a ação. Ela pensa que terá de contratar um advogado, pagar honorários e ainda esperar para receber determinada quantia. Os Juizados Especiais foram criados para tornar essa equação mais benéfica. Outra coisa que existe é a litigiosidade estimulada.
Leslie Ferraz — Nós temos muita diversidade social no Brasil e elas são reproduzidas no Judiciário. Costumo dizer que temos acesso à Justiça latente: Existem pessoas que não conseguem identificar seus direitos em uma lesão que tenha sofrido. Ela não tem consciência de que foi lesada e, portanto, nem vai pensar em ir para a Justiça. Também há o conceito desenvolvido pelo professor Kazuo Watanabe que é o da litigiosidade contida. A parte sabe que foi lesada, mas quando faz a relação “custo-benefício” conclui que não vale a pena entrar com a ação. Ela pensa que terá de contratar um advogado, pagar honorários e ainda esperar para receber determinada quantia. Os Juizados Especiais foram criados para tornar essa equação mais benéfica. Outra coisa que existe é a litigiosidade estimulada.
Conjur — Como assim?
Leslie Ferraz — A professora Tereza Sadek fala disso. Há um paradoxo. Tem demanda demais e demanda de menos. Poucos litigam muito, muitos litigam pouco e muitos nem sequer entram no sistema de Justiça. A desigualdade social é reproduzida na Justiça. Muitos usam e se beneficiam da máquina, e inclusive da lentidão do Judiciário. Quando falamos sobre morosidade, é comum atribuir o ônus totalmente aos tribunais. Mas nós nos esquecemos que em uma demanda, provavelmente, uma das partes quer que aquele processo demore. A parte devedora quer protelar o pagamento. Inclusive, grandes empresas fazem disso um cálculo. Se a dívida é de mil reais, a ação vai demorar 10 anos para ser julgada, é possível captar juros de 5% no mercado, por exemplo, e pagar os juros legais que são muito abaixo, a empresa faz um cálculo estratégico e consegue, inclusive, fazer dinheiro em cima do Judiciário. Perversamente, o Judiciário acaba sendo um parceiro para essa empresa, que acaba se utilizando da lentidão para ter benefícios.
Leslie Ferraz — A professora Tereza Sadek fala disso. Há um paradoxo. Tem demanda demais e demanda de menos. Poucos litigam muito, muitos litigam pouco e muitos nem sequer entram no sistema de Justiça. A desigualdade social é reproduzida na Justiça. Muitos usam e se beneficiam da máquina, e inclusive da lentidão do Judiciário. Quando falamos sobre morosidade, é comum atribuir o ônus totalmente aos tribunais. Mas nós nos esquecemos que em uma demanda, provavelmente, uma das partes quer que aquele processo demore. A parte devedora quer protelar o pagamento. Inclusive, grandes empresas fazem disso um cálculo. Se a dívida é de mil reais, a ação vai demorar 10 anos para ser julgada, é possível captar juros de 5% no mercado, por exemplo, e pagar os juros legais que são muito abaixo, a empresa faz um cálculo estratégico e consegue, inclusive, fazer dinheiro em cima do Judiciário. Perversamente, o Judiciário acaba sendo um parceiro para essa empresa, que acaba se utilizando da lentidão para ter benefícios.
Conjur — E como resolver isso?
Leslie Ferraz — Seria com a aplicação de multa. E essa questão tem conexão com a pesquisa sobre decisões monocráticas, porque nós queríamos ver se há correlação entre aplicação de multa e a interposição do recurso. Mas nós não conseguimos esses dados. De qualquer maneira, entrevistando os desembargadores, percebi uma diversidade muito grande. Alguns disseram nunca aplicar multa, pois é um direito da parte recorrer. Outros disseram que aplicam com parcimônia, em casos em que há um “cliente” habitual, uma empresa que está sempre sendo processada. E outros poucos disseram que aplicam muita multa, pois acham que é a única forma de frear a cultura de protelar ao máximo. Esse é um tema que vale analisar.
Leslie Ferraz — Seria com a aplicação de multa. E essa questão tem conexão com a pesquisa sobre decisões monocráticas, porque nós queríamos ver se há correlação entre aplicação de multa e a interposição do recurso. Mas nós não conseguimos esses dados. De qualquer maneira, entrevistando os desembargadores, percebi uma diversidade muito grande. Alguns disseram nunca aplicar multa, pois é um direito da parte recorrer. Outros disseram que aplicam com parcimônia, em casos em que há um “cliente” habitual, uma empresa que está sempre sendo processada. E outros poucos disseram que aplicam muita multa, pois acham que é a única forma de frear a cultura de protelar ao máximo. Esse é um tema que vale analisar.
ConJur — O tribunal passou a divulgar esses dados sobre as multas por sugestão da pesquisa, certo?
Leslie Ferraz — Sim. Eles têm um formulário onde alimentam com informações das decisões. Não havia um campo para multa. Agora, eles incluíram. Com base nisso, vou poder analisar os casos em que houve aplicação de multa e qual foi a estratégia naquele recurso. Elaborei a hipótese de que a aplicação de multa tem influência no resfriamento do recurso. Com os dados é que poderemos ver se isso será confirmado.
Leslie Ferraz — Sim. Eles têm um formulário onde alimentam com informações das decisões. Não havia um campo para multa. Agora, eles incluíram. Com base nisso, vou poder analisar os casos em que houve aplicação de multa e qual foi a estratégia naquele recurso. Elaborei a hipótese de que a aplicação de multa tem influência no resfriamento do recurso. Com os dados é que poderemos ver se isso será confirmado.
Conjur — Dá para dizer que quem tem uma defesa bem preparada tem mais chance de reverter a decisão monocrática do que quem não tem?
Leslie Ferraz — Essa é uma excelente questão. Infelizmente, os dados não foram capazes de apontar essa resposta. E eu só quero respostas fundadas em dados empíricos. Nós teríamos que ter feito uma pesquisa analisando o processo, porque o sistema não é capaz de informar esses detalhes. Vimos que a quantidade de agravos internos é de 35%. O ideal seria conseguir traçar o perfil dos que recorrem. O que dá para falar é o que advogados disseram quando entrevistados na pesquisa. Eu perguntei aos grandes escritórios com que frequência se utilizavam do agravo interno. A resposta foi 100%. Certamente um grande escritório que tem a capacidade de chegar em Brasília vai usar do agravo interno, mesmo sabendo que vai perder. Ele precisa desse degrau.
Leslie Ferraz — Essa é uma excelente questão. Infelizmente, os dados não foram capazes de apontar essa resposta. E eu só quero respostas fundadas em dados empíricos. Nós teríamos que ter feito uma pesquisa analisando o processo, porque o sistema não é capaz de informar esses detalhes. Vimos que a quantidade de agravos internos é de 35%. O ideal seria conseguir traçar o perfil dos que recorrem. O que dá para falar é o que advogados disseram quando entrevistados na pesquisa. Eu perguntei aos grandes escritórios com que frequência se utilizavam do agravo interno. A resposta foi 100%. Certamente um grande escritório que tem a capacidade de chegar em Brasília vai usar do agravo interno, mesmo sabendo que vai perder. Ele precisa desse degrau.
Conjur — Por que?
Leslie Ferraz — Essa é outra discussão importantíssima. A decisão monocrática não autoriza a apresentação de recursos aos tribunais superiores. É preciso ter uma decisão colegiada. O agravo interno da decisão monocrática vai, a longo prazo, ter um reflexo na diminuição do trabalho das instâncias superiores. Os dois terços de decisões monocráticas que não foram atacados não vão chegar ao STJ ou STF.
Leslie Ferraz — Essa é outra discussão importantíssima. A decisão monocrática não autoriza a apresentação de recursos aos tribunais superiores. É preciso ter uma decisão colegiada. O agravo interno da decisão monocrática vai, a longo prazo, ter um reflexo na diminuição do trabalho das instâncias superiores. Os dois terços de decisões monocráticas que não foram atacados não vão chegar ao STJ ou STF.
Conjur — A senhora também fez pesquisas sobre execuções fiscais. No Rio de Janeiro, apesar de o tribunal ser considerado rápido, a execução fiscal continua sendo um entrave.
Leslie Ferraz — Exatamente. Essa pesquisa sobre execuções também foi feita no Centro de Estudos Jurídicos, quando eu era coordenadora. E foi interessante, porque era multidisciplinar, com economistas, juristas e cientistas políticos. Nós queríamos analisar a relação custo-benefício da execução fiscal. Eu não tinha ideia e fiquei surpresa quando percebi que, no Rio e em São Paulo, metade dos processos em tramitação na Justiça estadual era de execuções fiscais. Isso significa que metade de toda estrutura do Tribunal, no mínimo, está comprometida com a cobrança de dívidas do governo. Quando começamos a atribuir toda responsabilidade para o Judiciário, temos que pensar quem é que está demandando. O maior litigante é o estado. Essa foi a primeira constatação que chocou bastante a nossa equipe. Nós também tentamos quantificar quanto tempo demorava para o Judiciário concluir um caso no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E a primeira constatação ruim foi de que não era possível quantificar. Eles não foram capazes de nos fornecer esses dados. Ou seja, o tribunal não consegue nem avaliar qual é o impacto disso. Na esfera federal, nós enviamos questionários para alguns procuradores federais e tivemos poucas respostas.
Leslie Ferraz — Exatamente. Essa pesquisa sobre execuções também foi feita no Centro de Estudos Jurídicos, quando eu era coordenadora. E foi interessante, porque era multidisciplinar, com economistas, juristas e cientistas políticos. Nós queríamos analisar a relação custo-benefício da execução fiscal. Eu não tinha ideia e fiquei surpresa quando percebi que, no Rio e em São Paulo, metade dos processos em tramitação na Justiça estadual era de execuções fiscais. Isso significa que metade de toda estrutura do Tribunal, no mínimo, está comprometida com a cobrança de dívidas do governo. Quando começamos a atribuir toda responsabilidade para o Judiciário, temos que pensar quem é que está demandando. O maior litigante é o estado. Essa foi a primeira constatação que chocou bastante a nossa equipe. Nós também tentamos quantificar quanto tempo demorava para o Judiciário concluir um caso no Rio de Janeiro, em São Paulo e no Rio Grande do Sul. E a primeira constatação ruim foi de que não era possível quantificar. Eles não foram capazes de nos fornecer esses dados. Ou seja, o tribunal não consegue nem avaliar qual é o impacto disso. Na esfera federal, nós enviamos questionários para alguns procuradores federais e tivemos poucas respostas.
Conjur — E o que eles disseram?
Leslie Ferraz — Não dá para generalizar. Mas foi curioso. Os procuradores mais novos disseram que nunca tinham visto uma execução terminar, tamanho era o tempo de duração. A PGFN [Procuradoria Geral da Fazenda Nacional] estimou em 16 anos: quatro na esfera administrativa e 12 na fase judicial. Foram duas constatações em relação ao tempo: não tinham essa quantificação e, quando tinham, era de um tempo bastante longo. O Rio Grande do Sul foi capaz de quantificar e a média foi um pouco menos de cinco anos para cada execução. Mas ainda assim é muito.
Leslie Ferraz — Não dá para generalizar. Mas foi curioso. Os procuradores mais novos disseram que nunca tinham visto uma execução terminar, tamanho era o tempo de duração. A PGFN [Procuradoria Geral da Fazenda Nacional] estimou em 16 anos: quatro na esfera administrativa e 12 na fase judicial. Foram duas constatações em relação ao tempo: não tinham essa quantificação e, quando tinham, era de um tempo bastante longo. O Rio Grande do Sul foi capaz de quantificar e a média foi um pouco menos de cinco anos para cada execução. Mas ainda assim é muito.
Conjur — E do ponto de vista do custo-benefício, vale a pena cobrar essas dívidas que demoram anos para serem processadas?
Leslie Ferraz — Isso foi uma questão apresentada pelos economistas. E tivemos outra surpresa. De todo valor da dívida ativa ajuizada apenas 1% é recuperado. É assustador. Só que, apesar disso, quando analisaram o quanto custava cobrar e o quanto se recuperava em valores absolutos, ainda assim se superava. O que se recebe é maior do que o que se gasta para cobrar.
Leslie Ferraz — Isso foi uma questão apresentada pelos economistas. E tivemos outra surpresa. De todo valor da dívida ativa ajuizada apenas 1% é recuperado. É assustador. Só que, apesar disso, quando analisaram o quanto custava cobrar e o quanto se recuperava em valores absolutos, ainda assim se superava. O que se recebe é maior do que o que se gasta para cobrar.
Conjur — Poderia ser muito mais.
Leslie Ferraz — Sim. O que os procuradores disseram em sua defesa é que o tamanho da dívida ativa é super estimado. Quando perguntamos qual era o valor real, eles não souberam responder. O valor da dívida ativa é calculado com base na petição inicial, ou seja, o valor que o procurador acha que o contribuinte deve. Mas o contribuinte pode contestar ou provar que já pagou. Fica um pouco inviabilizado calcular. O que a pesquisa identificou foi um nível de efetividade baixo e muito tempo e comprometimento do tribunal com esse tipo de ação. Têm alguns fatores que justificam. Por exemplo, a prescrição da dívida ativa só ocorre com o despacho do juiz recebendo a inicial. Os juízes narraram que em 30 de dezembro costumam chegar caminhões de petições iniciais de execução fiscal para evitar a prescrição. O Judiciário acaba sendo, literalmente, um depósito da dívida podre, porque nós sabemos que muitos dos créditos são inviáveis. Uma das sugestões da pesquisa foi de que a inscrição na dívida ativa já caracterizasse a interrupção da prescrição. Os juízes, com quem conversamos, perguntavam os motivos pelo qual a procuradoria, já na petição inicial, não elencava os bens da parte devedora. Eles disseram que o Judiciário se transformou em um balcão de cobrança da Procuradoria.
Leslie Ferraz — Sim. O que os procuradores disseram em sua defesa é que o tamanho da dívida ativa é super estimado. Quando perguntamos qual era o valor real, eles não souberam responder. O valor da dívida ativa é calculado com base na petição inicial, ou seja, o valor que o procurador acha que o contribuinte deve. Mas o contribuinte pode contestar ou provar que já pagou. Fica um pouco inviabilizado calcular. O que a pesquisa identificou foi um nível de efetividade baixo e muito tempo e comprometimento do tribunal com esse tipo de ação. Têm alguns fatores que justificam. Por exemplo, a prescrição da dívida ativa só ocorre com o despacho do juiz recebendo a inicial. Os juízes narraram que em 30 de dezembro costumam chegar caminhões de petições iniciais de execução fiscal para evitar a prescrição. O Judiciário acaba sendo, literalmente, um depósito da dívida podre, porque nós sabemos que muitos dos créditos são inviáveis. Uma das sugestões da pesquisa foi de que a inscrição na dívida ativa já caracterizasse a interrupção da prescrição. Os juízes, com quem conversamos, perguntavam os motivos pelo qual a procuradoria, já na petição inicial, não elencava os bens da parte devedora. Eles disseram que o Judiciário se transformou em um balcão de cobrança da Procuradoria.
Conjur — E qual a posição dos procuradores?
Leslie Ferraz — Eles pedem poderes para quebra de sigilo. Também foi interessante porque fizemos uma mesa de debates com representante de todos, já que cada um atribuía o problema para outra esfera. Os procuradores também disseram não ter nenhuma possibilidade de discricionariedade para ajuizar o crédito. Ainda que eles saibam que não vão receber, eles têm de entrar com a ação. Esse arranjo, o modo como as coisas são feitas, acaba trazendo esse quadro desolador que nós temos.
Leslie Ferraz — Eles pedem poderes para quebra de sigilo. Também foi interessante porque fizemos uma mesa de debates com representante de todos, já que cada um atribuía o problema para outra esfera. Os procuradores também disseram não ter nenhuma possibilidade de discricionariedade para ajuizar o crédito. Ainda que eles saibam que não vão receber, eles têm de entrar com a ação. Esse arranjo, o modo como as coisas são feitas, acaba trazendo esse quadro desolador que nós temos.
Conjur — E em relação à pesquisa nos cartórios judiciais. A Justiça Federal, e a Estadual do Rio, por exemplo, está não só se informatizando como virtualizando os processos.
Leslie Ferraz — A pesquisa do cartório também contou com uma equipe multidisciplinar. A pergunta que foi colocada era se gestão do cartório tinha alguma influência no quadro que se convencionou chamar de morosidade da Justiça. Nós não queríamos saber quantidade de cartórios ou funcionários, porque sabíamos que a realidade era muito mais complexa. Usamos a metodologia de estudo de caso. Estudamos quatro cartórios, dois da capital e dois do interior de São Paulo. Fizemos um estudo tridimensional: jurídico, antropológico e administrativo. Dos antropólogos, o resultado foi riquíssimo, pois eles perceberam as relações de poder que se davam no cartório. Eles ficaram seis meses vivenciando a rotina desses cartórios. Na época, teve um jogo da Copa do Mundo e os pesquisadores viram quem era que fazia o bolão, quem podia ver o jogo, quem era convidado, uma dinâmica de relações. O que eles perceberam é que os funcionários se sentem totalmente invisíveis e desconsiderados. Eles acham que o tribunal é uma entidade distante que não tem aproximação com eles.
Leslie Ferraz — A pesquisa do cartório também contou com uma equipe multidisciplinar. A pergunta que foi colocada era se gestão do cartório tinha alguma influência no quadro que se convencionou chamar de morosidade da Justiça. Nós não queríamos saber quantidade de cartórios ou funcionários, porque sabíamos que a realidade era muito mais complexa. Usamos a metodologia de estudo de caso. Estudamos quatro cartórios, dois da capital e dois do interior de São Paulo. Fizemos um estudo tridimensional: jurídico, antropológico e administrativo. Dos antropólogos, o resultado foi riquíssimo, pois eles perceberam as relações de poder que se davam no cartório. Eles ficaram seis meses vivenciando a rotina desses cartórios. Na época, teve um jogo da Copa do Mundo e os pesquisadores viram quem era que fazia o bolão, quem podia ver o jogo, quem era convidado, uma dinâmica de relações. O que eles perceberam é que os funcionários se sentem totalmente invisíveis e desconsiderados. Eles acham que o tribunal é uma entidade distante que não tem aproximação com eles.
ConJur — O próprio servidor acha isso?
Leslie Ferraz — Sim. A reforma legislativa não considera o cartório; os servidores não têm planos de carreira e treinamentos. Em muitos funcionários, de fato, percebemos uma certa acomodação. Mas a pesquisa mudou a minha visão, porque muitos disseram que queriam ter perspectiva e não tinham. Em alguns casos, havia envolvimento do servidor com o cartório e com a gestão e, em outros, isso era deixado para o chefe do cartório. Foi algo até curioso, pois perguntamos qual era o defeito de um juiz: incompetência ou “juizite”. “Juizite” aparecia espontaneamente. Eles preferem um juiz mais sensível, que se relacione melhor, um ambiente de trabalho mais positivo a um juiz competente. Deu para perceber como a questão do relacionamento é forte. Como eu advoguei em São Paulo, quantas vezes cheguei no cartório, disse “boa tarde” e ninguém me respondeu? Achava que fosse má-fé. Na visão dos funcionários, o ambiente de trabalho é muito negativo.
Leslie Ferraz — Sim. A reforma legislativa não considera o cartório; os servidores não têm planos de carreira e treinamentos. Em muitos funcionários, de fato, percebemos uma certa acomodação. Mas a pesquisa mudou a minha visão, porque muitos disseram que queriam ter perspectiva e não tinham. Em alguns casos, havia envolvimento do servidor com o cartório e com a gestão e, em outros, isso era deixado para o chefe do cartório. Foi algo até curioso, pois perguntamos qual era o defeito de um juiz: incompetência ou “juizite”. “Juizite” aparecia espontaneamente. Eles preferem um juiz mais sensível, que se relacione melhor, um ambiente de trabalho mais positivo a um juiz competente. Deu para perceber como a questão do relacionamento é forte. Como eu advoguei em São Paulo, quantas vezes cheguei no cartório, disse “boa tarde” e ninguém me respondeu? Achava que fosse má-fé. Na visão dos funcionários, o ambiente de trabalho é muito negativo.
ConJur — E em relação à gestão? Isso é desafiador para o Judiciário.
Leslie Ferraz — Do âmbito de gestão foi enlouquecedor. Os administradores tinham trabalhado em empresas e a missão era fazer o fluxograma de um processo. Acharam que seria possível fazer todo fluxo do processo em uma página. Eu me lembro de eles chegarem nas reuniões e colarem folhas de sulfite no chão. Ficaram enlouquecidos, porque não havia racionalidade nenhuma. Eles disseram, por exemplo, que no fluxo precisava ter os responsáveis por poderes decisórios. Isso não existia no cartório. Quem fica no balcão? Quem cuida de um processo? É por final da numeração? É par ou ímpar? Não tem critério para isso. Cada cartório tem uma dinâmica, tem um funcionamento e isso é o caos. Em um dia, o juiz parava tudo e chamava os servidores para fazer mutirão de juntada de petição. Não existe o mínimo de gestão. Ficou comprovado que é completamente irracional. Os administradores não se conformavam, porque o fluxo ia e voltava; não existia um fluxo seguido.
Leslie Ferraz — Do âmbito de gestão foi enlouquecedor. Os administradores tinham trabalhado em empresas e a missão era fazer o fluxograma de um processo. Acharam que seria possível fazer todo fluxo do processo em uma página. Eu me lembro de eles chegarem nas reuniões e colarem folhas de sulfite no chão. Ficaram enlouquecidos, porque não havia racionalidade nenhuma. Eles disseram, por exemplo, que no fluxo precisava ter os responsáveis por poderes decisórios. Isso não existia no cartório. Quem fica no balcão? Quem cuida de um processo? É por final da numeração? É par ou ímpar? Não tem critério para isso. Cada cartório tem uma dinâmica, tem um funcionamento e isso é o caos. Em um dia, o juiz parava tudo e chamava os servidores para fazer mutirão de juntada de petição. Não existe o mínimo de gestão. Ficou comprovado que é completamente irracional. Os administradores não se conformavam, porque o fluxo ia e voltava; não existia um fluxo seguido.
ConJur — E do ponto de vista jurídico?
Leslie Ferraz — A equipe de juristas constatou que o processo passa 90% do tempo no cartório. Apesar disso, o cartório é completamente ignorado nas reformas processuais. O tempo para as partes, para conclusão do juiz ou publicação da decisão é pequeno. Inclusive o tempo que mais demora é o da publicação. Curioso como as pesquisas acabam dando outras informações. Nós descobrimos que a publicação demora, porque é uma forma dos funcionários do cartório gerirem o seu tempo. O funcionário percebeu que se lançar 100 publicações em um dia, no seguinte, são 100 pessoas que estarão no balcão. Ele mesmo controla esse fluxo e, nesse sentido, há até mais gestão do que imaginávamos. Só que isso traz uma demora posterior.
Leslie Ferraz — A equipe de juristas constatou que o processo passa 90% do tempo no cartório. Apesar disso, o cartório é completamente ignorado nas reformas processuais. O tempo para as partes, para conclusão do juiz ou publicação da decisão é pequeno. Inclusive o tempo que mais demora é o da publicação. Curioso como as pesquisas acabam dando outras informações. Nós descobrimos que a publicação demora, porque é uma forma dos funcionários do cartório gerirem o seu tempo. O funcionário percebeu que se lançar 100 publicações em um dia, no seguinte, são 100 pessoas que estarão no balcão. Ele mesmo controla esse fluxo e, nesse sentido, há até mais gestão do que imaginávamos. Só que isso traz uma demora posterior.
ConJur — E quanto à cultura do papel?
Leslie Ferraz — Quando se fala em informatização, a primeira coisa que vem à mente é de que o problema será resolvido. Na pesquisa, os funcionários disseram que o sistema de informatização foi imposto a eles, sem que ninguém os ouvisse. Eles tiveram de aprender a operar um sistema que não tinha nada a ver com a realidade deles. A informatização não pode ignorar o operador e, ao menos nesse caso que estudamos, ela o ignorou. E a outra questão é a da cultura do papel. Nós vimos um caso em que a cartorária registrava os dados do processo naquelas fichinhas antigas de cartolina e depois os incluía no computador. Por último, registrava em sua própria agenda para ter o controle desse fluxo. Para os administradores, isso também era totalmente irracional. Se o grande foco da informatização é facilitar o trabalho, no caso da cartorária, o serviço era triplicado. E, por parte dos advogados, há o que nós chamamos de cultura do balcão. Eles não confiam na informatização. Nós não precisávamos de 100 pessoas esperando no balcão no dia seguinte à publicação de 100 despachos. Mas eles querem ir para o cartório e ver o processo, porque não confiam no sistema de informática do tribunal. É uma cultura toda calcada no papel e no balcão que terá de ser quebrada.
Leslie Ferraz — Quando se fala em informatização, a primeira coisa que vem à mente é de que o problema será resolvido. Na pesquisa, os funcionários disseram que o sistema de informatização foi imposto a eles, sem que ninguém os ouvisse. Eles tiveram de aprender a operar um sistema que não tinha nada a ver com a realidade deles. A informatização não pode ignorar o operador e, ao menos nesse caso que estudamos, ela o ignorou. E a outra questão é a da cultura do papel. Nós vimos um caso em que a cartorária registrava os dados do processo naquelas fichinhas antigas de cartolina e depois os incluía no computador. Por último, registrava em sua própria agenda para ter o controle desse fluxo. Para os administradores, isso também era totalmente irracional. Se o grande foco da informatização é facilitar o trabalho, no caso da cartorária, o serviço era triplicado. E, por parte dos advogados, há o que nós chamamos de cultura do balcão. Eles não confiam na informatização. Nós não precisávamos de 100 pessoas esperando no balcão no dia seguinte à publicação de 100 despachos. Mas eles querem ir para o cartório e ver o processo, porque não confiam no sistema de informática do tribunal. É uma cultura toda calcada no papel e no balcão que terá de ser quebrada.
ConJur — Por que os advogados não confiam no sistema?
Leslie Ferraz — Eles alegam que nem sempre o sistema está atualizado. Dizem que vão muito ao balcão porque o tribunal não fornece informação suficiente. Novamente é um atribuindo a culpa ao outro.
Leslie Ferraz — Eles alegam que nem sempre o sistema está atualizado. Dizem que vão muito ao balcão porque o tribunal não fornece informação suficiente. Novamente é um atribuindo a culpa ao outro.
Fonte: ConJur